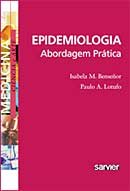Brian MacMahon, who chaired the Department of Epidemiology at the Harvard School of Public Health for 31 years, passed away on December 5, 2007, at the age of 84.
In a message to the HSPH community, Dean Barry Bloom said that MacMahon was a giant in the field of cancer epidemiology and became particularly recognized for his work on breast cancer etiology. In 1970, MacMahon was the lead author on a renowned international collaborative study that detailed an association between risk of breast cancer and the age at which women gave birth to their first child. The findings provided new insight into the protective mechanisms of pregnancy and prompted broader thinking about the causes of breast cancer.
In 1960, MacMahon co-authored Epidemiologic Methods with Thomas F. Pugh and Johannes Ipsen. This book became Epidemiology: Principles and Methods, published in 1970 and co-authored by MacMahon and Pugh. The text became widely recognized as a landmark epidemiology textbook in the U.S. A second edition was published in 1996, co-authored by MacMahon and HSPH Professor Dimitrios Trichopoulos.
In addition to his cancer studies, MacMahon was well-known for his papers on pyloric stenosis in infants. This condition interferes with the ability to digest food. At a time when genes were the primary focus of research underlying pyloric stenosis, MacMahon's research shed light on associated environmental factors.
In the 1940s, MacMahon attended the University of Birmingham, England, earning diplomas of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons, as well as an MB, ChB, and DPH. From 1946 to 1948, he worked as a ship's doctor in the English Merchant Navy. In 1952, he earned a PhD in social medicine from the University of Birmingham. The following year, he came to HSPH, achieving a master's degree in epidemiology in 1953. Two years later, he obtained an MD with honors from the University of Birmingham.
MacMahon held appointments at the University of Birmingham and at the State University of New York, Downstate Medical Center, before accepting the position as head of the HSPH Department of Epidemiology in 1958. He served as the department's leader until 1989, passing the mantle to Trichopoulos.
In 1974, he was appointed Professor of Public Health at the University of Hawaii at Manoa, School of Public Health. In 1976, he was appointed Henry Pickering Walcott Professor of Epidemiology at HSPH. From 1977 to 1978, he served as Associate Dean for Academic Affairs at the School.
MacMahon received the National Divisional Distinguished Service Award from the American Cancer Society in 1971 and was elected to the Institute of Medicine in 1973. He was conferred the John Snow Award from the American Public Health Association in 1980, and he received the Charles S. Mott Prize from the General Motors Cancer Research Foundation in 1992. He received honorary doctorates from the University of Athens, the State University of New York, and the University of Birmingham, England.
A native of England, MacMahon became a naturalized U.S. citizen in 1962.
MacMahon's family held a private service. In lieu of flowers, they ask that donations be made to the Brian and Heidi MacMahon Epidemiology Educational Fund, Office for Resource Development, HSPH, Attn: Gift Processing, 401 Park Dr., East Atrium, 3rd Floor, Boston, MA 02215
Brian MacMahon, who chaired the Department of Epidemiology at the Harvard School of Public Health for 31 years, passed away on December 5, 2007, at the age of 84.
In a message to the HSPH community, Dean Barry Bloom said that MacMahon was a giant in the field of cancer epidemiology and became particularly recognized for his work on breast cancer etiology. In 1970, MacMahon was the lead author on a renowned international collaborative study that detailed an association between risk of breast cancer and the age at which women gave birth to their first child. The findings provided new insight into the protective mechanisms of pregnancy and prompted broader thinking about the causes of breast cancer.
In 1960, MacMahon co-authored Epidemiologic Methods with Thomas F. Pugh and Johannes Ipsen. This book became Epidemiology: Principles and Methods, published in 1970 and co-authored by MacMahon and Pugh. The text became widely recognized as a landmark epidemiology textbook in the U.S. A second edition was published in 1996, co-authored by MacMahon and HSPH Professor Dimitrios Trichopoulos.
In addition to his cancer studies, MacMahon was well-known for his papers on pyloric stenosis in infants. This condition interferes with the ability to digest food. At a time when genes were the primary focus of research underlying pyloric stenosis, MacMahon's research shed light on associated environmental factors.
In the 1940s, MacMahon attended the University of Birmingham, England, earning diplomas of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons, as well as an MB, ChB, and DPH. From 1946 to 1948, he worked as a ship's doctor in the English Merchant Navy. In 1952, he earned a PhD in social medicine from the University of Birmingham. The following year, he came to HSPH, achieving a master's degree in epidemiology in 1953. Two years later, he obtained an MD with honors from the University of Birmingham.
MacMahon held appointments at the University of Birmingham and at the State University of New York, Downstate Medical Center, before accepting the position as head of the HSPH Department of Epidemiology in 1958. He served as the department's leader until 1989, passing the mantle to Trichopoulos.
In 1974, he was appointed Professor of Public Health at the University of Hawaii at Manoa, School of Public Health. In 1976, he was appointed Henry Pickering Walcott Professor of Epidemiology at HSPH. From 1977 to 1978, he served as Associate Dean for Academic Affairs at the School.
MacMahon received the National Divisional Distinguished Service Award from the American Cancer Society in 1971 and was elected to the Institute of Medicine in 1973. He was conferred the John Snow Award from the American Public Health Association in 1980, and he received the Charles S. Mott Prize from the General Motors Cancer Research Foundation in 1992. He received honorary doctorates from the University of Athens, the State University of New York, and the University of Birmingham, England.
A native of England, MacMahon became a naturalized U.S. citizen in 1962.
MacMahon's family held a private service. In lieu of flowers, they ask that donations be made to the Brian and Heidi MacMahon Epidemiology Educational Fund, Office for Resource Development, HSPH, Attn: Gift Processing, 401 Park Dr., East Atrium, 3rd Floor, Boston, MA 02215sexta-feira, 4 de janeiro de 2008
Brian MacMahon: o epidemiologista mais lido
 Brian MacMahon, who chaired the Department of Epidemiology at the Harvard School of Public Health for 31 years, passed away on December 5, 2007, at the age of 84.
In a message to the HSPH community, Dean Barry Bloom said that MacMahon was a giant in the field of cancer epidemiology and became particularly recognized for his work on breast cancer etiology. In 1970, MacMahon was the lead author on a renowned international collaborative study that detailed an association between risk of breast cancer and the age at which women gave birth to their first child. The findings provided new insight into the protective mechanisms of pregnancy and prompted broader thinking about the causes of breast cancer.
In 1960, MacMahon co-authored Epidemiologic Methods with Thomas F. Pugh and Johannes Ipsen. This book became Epidemiology: Principles and Methods, published in 1970 and co-authored by MacMahon and Pugh. The text became widely recognized as a landmark epidemiology textbook in the U.S. A second edition was published in 1996, co-authored by MacMahon and HSPH Professor Dimitrios Trichopoulos.
In addition to his cancer studies, MacMahon was well-known for his papers on pyloric stenosis in infants. This condition interferes with the ability to digest food. At a time when genes were the primary focus of research underlying pyloric stenosis, MacMahon's research shed light on associated environmental factors.
In the 1940s, MacMahon attended the University of Birmingham, England, earning diplomas of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons, as well as an MB, ChB, and DPH. From 1946 to 1948, he worked as a ship's doctor in the English Merchant Navy. In 1952, he earned a PhD in social medicine from the University of Birmingham. The following year, he came to HSPH, achieving a master's degree in epidemiology in 1953. Two years later, he obtained an MD with honors from the University of Birmingham.
MacMahon held appointments at the University of Birmingham and at the State University of New York, Downstate Medical Center, before accepting the position as head of the HSPH Department of Epidemiology in 1958. He served as the department's leader until 1989, passing the mantle to Trichopoulos.
In 1974, he was appointed Professor of Public Health at the University of Hawaii at Manoa, School of Public Health. In 1976, he was appointed Henry Pickering Walcott Professor of Epidemiology at HSPH. From 1977 to 1978, he served as Associate Dean for Academic Affairs at the School.
MacMahon received the National Divisional Distinguished Service Award from the American Cancer Society in 1971 and was elected to the Institute of Medicine in 1973. He was conferred the John Snow Award from the American Public Health Association in 1980, and he received the Charles S. Mott Prize from the General Motors Cancer Research Foundation in 1992. He received honorary doctorates from the University of Athens, the State University of New York, and the University of Birmingham, England.
A native of England, MacMahon became a naturalized U.S. citizen in 1962.
MacMahon's family held a private service. In lieu of flowers, they ask that donations be made to the Brian and Heidi MacMahon Epidemiology Educational Fund, Office for Resource Development, HSPH, Attn: Gift Processing, 401 Park Dr., East Atrium, 3rd Floor, Boston, MA 02215
Brian MacMahon, who chaired the Department of Epidemiology at the Harvard School of Public Health for 31 years, passed away on December 5, 2007, at the age of 84.
In a message to the HSPH community, Dean Barry Bloom said that MacMahon was a giant in the field of cancer epidemiology and became particularly recognized for his work on breast cancer etiology. In 1970, MacMahon was the lead author on a renowned international collaborative study that detailed an association between risk of breast cancer and the age at which women gave birth to their first child. The findings provided new insight into the protective mechanisms of pregnancy and prompted broader thinking about the causes of breast cancer.
In 1960, MacMahon co-authored Epidemiologic Methods with Thomas F. Pugh and Johannes Ipsen. This book became Epidemiology: Principles and Methods, published in 1970 and co-authored by MacMahon and Pugh. The text became widely recognized as a landmark epidemiology textbook in the U.S. A second edition was published in 1996, co-authored by MacMahon and HSPH Professor Dimitrios Trichopoulos.
In addition to his cancer studies, MacMahon was well-known for his papers on pyloric stenosis in infants. This condition interferes with the ability to digest food. At a time when genes were the primary focus of research underlying pyloric stenosis, MacMahon's research shed light on associated environmental factors.
In the 1940s, MacMahon attended the University of Birmingham, England, earning diplomas of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons, as well as an MB, ChB, and DPH. From 1946 to 1948, he worked as a ship's doctor in the English Merchant Navy. In 1952, he earned a PhD in social medicine from the University of Birmingham. The following year, he came to HSPH, achieving a master's degree in epidemiology in 1953. Two years later, he obtained an MD with honors from the University of Birmingham.
MacMahon held appointments at the University of Birmingham and at the State University of New York, Downstate Medical Center, before accepting the position as head of the HSPH Department of Epidemiology in 1958. He served as the department's leader until 1989, passing the mantle to Trichopoulos.
In 1974, he was appointed Professor of Public Health at the University of Hawaii at Manoa, School of Public Health. In 1976, he was appointed Henry Pickering Walcott Professor of Epidemiology at HSPH. From 1977 to 1978, he served as Associate Dean for Academic Affairs at the School.
MacMahon received the National Divisional Distinguished Service Award from the American Cancer Society in 1971 and was elected to the Institute of Medicine in 1973. He was conferred the John Snow Award from the American Public Health Association in 1980, and he received the Charles S. Mott Prize from the General Motors Cancer Research Foundation in 1992. He received honorary doctorates from the University of Athens, the State University of New York, and the University of Birmingham, England.
A native of England, MacMahon became a naturalized U.S. citizen in 1962.
MacMahon's family held a private service. In lieu of flowers, they ask that donations be made to the Brian and Heidi MacMahon Epidemiology Educational Fund, Office for Resource Development, HSPH, Attn: Gift Processing, 401 Park Dr., East Atrium, 3rd Floor, Boston, MA 02215quinta-feira, 3 de janeiro de 2008
BMJ:médicos e a Big Pharma
Doctors and the drug industry
Fiona Godlee, editor
fgodlee@bmj.com
The Royal College of Physicians is looking at relations between doctors and the drug industry and wants to hear from you (doi: 10.1136/bmj.39428.617431.DB). In case you need them, here are some pointers from this week’s BMJ.
Firstly, should we fear for the integrity of medical research because clinical trials are overwhelmingly funded by industry? Yes, says Paulo Bruzzi (doi 10.1136/bmj.39416.559942.BE). Industry designs trials mainly to get new drugs registered as soon as possible, preferably with an unrestricted indication. The best trials for this—in large unselected populations—often leave key questions unanswered and, because of ethical constraints on subsequent trials, unanswerable.
Bruzzi is only slightly reassured by evidence from Louise Berendt and colleagues (doi: 10.1136/bmj.39401.470648.BE) that independent trials have survived the imposition of rules for good clinical practice. He says the medical research community must rethink the terms of cooperation with industry: "Our health systems risk bankruptcy for the skyrocketing costs of drugs that were developed on their own patients using strategies that ignore the patients’ needs and priorities."
Secondly, what of industry’s influence on prescribers? Nothing new here except, I would like to think, a growing sense of outrage. Writing recently in the New York Times, Daniel Carlat, an academic psychiatrist in Boston, has exposed his journey from industry funded speaker to penitent giver of "un-drug talks." As Jeanne Lenzer and Shannon Brownlee describe (doi: 10.1136/bmj.39437.473576.0F), Carlat feels he must pay his dues for the overprescribing he has caused. He wants other doctors to join him in kicking the addiction to drug company money.
Paid opinion leaders are not unique to psychiatry, of course. In 2002, the New England Journal of Medicine reversed its 12 year old policy of precluding anyone with financial ties to industry from writing editorials or review articles. It couldn’t find enough authors with no financial ties. The NEJM can still claim to have the most stringent policy of the major general medical journals.
On the face of it, this is a pragmatic response to the world we live in. But looked at another way it’s an indictment of medicine’s culture. The evidence that industry funding biases the design and reporting of clinical research is overwhelming. So too is the evidence that paid opinion leaders increase prescription of the sponsor’s drug. Why else would industry pay them? Surely we must create a better system. Giovanni Fava, editor of World Psychiatry, may have come up with one. As well as enforcing declaration of conflicts of interest, he suggests rewarding those who choose to remain independent—by giving them priority for public research funding, guideline panels, and journal editorships (World Psychiatry 2007;6:19-24). If enough of us dropped our links with industry, it could mean not only less bias but also less money spent on marketing and more on doing trials that address the important questions. Drugs might be cheaper, too.
Ultimately, says Carlat, our professionalism is at stake. The Royal College of Physicians is giving the profession the chance to speak with one voice and to come up with a better way of doing things. Send it (pharma@rcplondon.ac.uk
quarta-feira, 2 de janeiro de 2008
Em recesso, mas atento: economistas substituem médicos como lobistas da Big Pharma.
Não saberia escolher quem sai pior depois da leitura do texto abaixo, publicado ontem no Estadão. Leiam abaixo, o texto completo.
Você poderá escolher mais de uma opção:
1. A FEA USP que empresta seu nome para uma ação lobista de empresa farmacêutica junto ao SUS.
2. A FIA (fundação da FEA) que realiza estudo, que pela amostra do resumo é de qualidade ruim, que não a recomenda a novos clientes na área da saúde. Fazer um relatório para mostrar que a transição demográfica e epidemiológica existe é de um acacianismo incrível. Pior é afirmar que o problema de gestão é decorrente da demora na aprovação de protocolos (seriam os de interesse da Roche?), revelando desconhecimento da realidade, exceto o compromisso dos autores com o patrocinador.
3. O senhor Leandro Fraga que mostra ignorância ímpar, ao citar a aspirina como exemplo de medicamento ultrapassado. Recomendo a ele a leitura de vários posts que mostram a importância capital da aspirina hoje ;
4. A Roche que parecia ser a empresa da Big Pharma mais antenada no futuro, mas que continua a utilizar a tática "terrorismo pela imprensa",
5. Médicos que eram (ou são) speakers do tema hepatite C e, parecem que foram superados pelos economistas speakers.
Ainda bem, que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de São Paulo não caíram na armadilha.
ps1: não sou ombudsman do Estadão, mas essa reportagem merecia vir com a tarja "informe publicitário".
ps2: vejam a quantia que a indústria dos processos para medicamentos de alto custo movimenta atualmente.
SUS não acompanha avanço do País, diz estudo
Estudo da FEA mostra que Brasil já tem problemas de saúde de nações desenvolvidas, mas estrutura e gestão continuam subdesenvolvidas
Emilio Sant’Anna
Em pouco mais de quatro décadas, a expectativa de vida do brasileiro passará dos atuais 71,3 anos para cerca de 81 anos. Com uma estrutura etária semelhante a de países desenvolvidos - com cada vez mais idosos e menos jovens - os problemas de saúde do Brasil também serão semelhantes. Além de doenças endêmicas como dengue e febre amarela, características de países pobres, o desafio do Sistema Único de Saúde (SUS) será tratar com protocolos atualizados os casos de câncer, diabete, artrite e hipertensão, que se tornarão mais freqüentes. A saída indicada pelo estudo da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) para que o SUS consiga atender essa demanda com qualidade é o choque de gestão. “O Brasil já tem problemas de países desenvolvidos sem ter estrutura para isso”, diz James Wright coordenador da pesquisa e do Programa de Estudos do Futuro da Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada à FEA. Os especialistas apontam como gargalos a lentidão do Ministério da Saúde na revisão de protocolos médicos e o baixo crescimento nos investimentos na área ao longo dos anos. O estudo foi realizado a pedido do laboratório Roche para dar suporte aos investimentos da empresa no Brasil e na América Latina. Um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) indica os principais problemas que os governos da região enfrentam na área da saúde. Países como a Bolívia e o Paraguai lutam contra dificuldades geográficas e pouco acesso aos serviços de saúde. Já no Brasil, os três principais problemas são a mudança do perfil epidemiológico das doenças para males não transmissíveis (como a diabete), aumento da complexidade e dos custos dos procedimentos e a falta de eqüidade com os cuidados médicos entre a população. Para enfrentar essa situação, os pesquisadores indicam a necessidade de planejamento a longo prazo das políticas de saúde e agilidade na tomada de decisões. Os especialistas em saúde pública são unânimes em afirmar que o modelo de inclusão universal do SUS é um avanço sem paralelos em outros países. Leandro Fraga, um dos autores da pesquisa, concorda. Para ele, no entanto, ainda vigora a idéia de que para tornar o atendimento viável é impossível oferecer serviços e medicamentos de última geração. “Vamos tratar todos a base de aspirina ou vamos disponibilizar algo melhor?”, questiona. “Temos que usar tecnologia de ponta.”De acordo com o estudo, o chamado tratamento de primeira linha do câncer - com medicamentos de última geração - recebe apenas uma pequena parcela dos recursos destinados para o combate da doença. Outra constatação são as poucas atualizações da tabela do SUS para tratamentos como o da hepatite. No caso da hepatite C, o protocolo foi atualizado há pouco mais de dois meses. Desde 2002, isso não acontecia. Segundo Gerusa Figueiredo, coordenadora do Programa Nacional de Hepatites Virais, existe a intenção do ministério de tornar essa revisão anual. Gerusa admite que o tratamento para a hepatite B precisa da incorporação de novas drogas já aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “No início de 2008 isso será discutido mais amplamente”, diz. Hoje, a doença - que pode ter mais resistência aos medicamentos que a hepatite C - é tratada com interferon e lamivudina. O interferon peguilado e o abicavir devem ser incluídos. GANHOS NA JUSTIÇAA falta de atualizações nos protocolos clínicos leva a outro problema: ações judiciais contra Estados, municípios e a União movidas por pacientes em busca de medicamentos de alto custo. Em quatro anos, os gastos do Ministério da Saúde com ações desse tipo aumentaram de R$ 188 mil para R$ 26 milhões. Os Estados, no entanto, continuam sendo os mais processados. São Paulo desembolsou, só em 2007, cerca de R$ 400 milhões em remédios para 25 mil pessoas. Em 2005, o valor foi de R$ 200 milhões. “Existem medicamentos que já fazem parte de protocolos clínicos amplamente aceitos e ainda não fazem parte dessa lista”, diz a advogada Renata Vilhena. Um de seus clientes é o escrivão de polícia Waldir Almeida, de 51 anos. Após extirpar parte do cerebelo por causa de um tumor maligno,recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão. Como não pode pagar, entrou com uma liminar na Justiça para que o Estado forneça o quimioterápico Alimta - indicado por oncologistas, mas ainda não padronizado pelo SUS. Uma dose de 500 miligramas do medicamento pode custar cerca de R$ 6,5 mil. “Estava fazendo uma sessão de quimioterapia por mês com outro remédio, mas não estava dando muitos resultados”, diz. O escrivão precisa fazer mais 12 sessões com o novo medicamento. Em 2007, o escritório de Renata teve um aumento de 25% nas ações contra o Estado de São Paulo. “Os pacientes estão mais informados e exigem de seus médicos os melhores tratamentos”, diz a advogada. Para ela, não existe hoje no País uma política séria para medicamentos de alto custo. Mesmo assim, reconhece que existem fortes pressões da indústria farmacêutica para ver seus produtos aprovados pelo Ministério da Saúde. Para dar suporte a essa decisão, foi instaurado em 2002, pelo então ministro da Saúde Barjas Negri, a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Esse é o órgão responsável pela análise das avaliações produzidas, por exemplo, por técnicos do Instituto Nacional de Câncer (Inca) sobre a incorporação de novas técnicas e drogas de combate ao câncer. Procurado pela reportagem, o ministério preferiu não se manifestar sobre a avaliação dos economistas da FEA, de acordo com sua assessoria de imprensa, por entender que há um conflito de interesses. Isso porque o estudo é patrocinado por uma indústria farmacêutica, a Roche. O secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, também vê exageros da indústria. Para ele, a avaliação do custo e da efetividade da adoção de determinados protocolos, como no caso do câncer, devem vir sempre em primeiro lugar para o gestor público. Barradas concorda que o processo de revisão desses protocolos “poderia ser um pouco mais rápido do que é hoje”, mas não deve jamais ceder às pressões dos laboratórios. INVESTIMENTOSA pesquisa da FEA traça também um paralelo entre os investimentos em saúde e educação nos países da America Latina. Os gastos públicos em educação e em saúde não vêm apresentando o mesmo comportamento nos países estudados. Enquanto a educação teve sua importância reconhecida em quase toda a região e passou a receber parcelas crescentes do Produto Interno Bruto (PIB) no últimos anos, os gastos com saúde, com raras exceções, se mantiveram nos patamares de 15 anos atrás. O gasto per capita do Brasil está acima dos investimentos de outros países da América Latina. Ainda assim, é bem menor do que o gasto mundial.
Assinar:
Comentários (Atom)