Nesse domingo (10/09/06) os conselheiros da saúde saíram da cidade. Isso permitiu que O Estado de São Paulo publicasse duas páginas criticando as principais publicações científicas. Citou três exemplos gritantes na Science e na Nature, mas haveria vários outros. Entrevistou vários cientistas, discutiu o preconceito velado contra pesquisadores fora dos grandes centros e, até mostrou que o problema maior é a "panela de citações", agora induzida e organizada pelas próprias revistas. Para finalizar, ainda entrevistou a editora da Nature. Em suma, uma reportagem de qualidade.
Comentário: o preconceito existe em todo o momento, mesmo dentro dos EUA com as universidades menores e, muito no Brasil. Na experiência de seis anos como editor médico afirmo que há uma certa "ação afirmativa" com os artigos enviados por pesquisadores de escolas e hospitais menos tradicionais e, rigor mais com artigos originados em "universidades de ponta".
A Folha de S. Paulo mostrou que a proporção de pessoas felizes no país é elevada (78%) e, aumentou em dez anos. Que decepção! Resolveram brigar com os números, desqualificar os felizes, imputar a quem respondeu "sim" ao que lhe era perguntado, uma séria de características que não podem ser deduzidas da pesquisa. Que coisa chata, um dado tão importante e, obtido com qualidade muito boa do Datafolha foi condenado. Uma provocação: qual a proporção de pessoas felizes nas redações de jornal? Em tempo, estou com a maioria!!
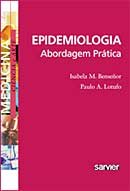
Um comentário:
A ciência, o sensacionalismo e os mitos
Por Ulisses Capozzoli em 12/9/2006
Levantamento bem cuidado feito pelo repórter Herton Escobar, publicado na edição de domingo (10/9, pág. A26 e A27) do Estado de S.Paulo sugere que a pesquisa científica e publicações especializadas como Nature e Science estão cedendo ao "sensacionalismo" e nutrem certo preconceito em relação a trabalhos produzidos na periferia do mundo.
Observações como essas sugerem que nem mesmo a ciência escapa da crise de valores, como se a produção científica fosse algo que viesse do além e não fosse produzida aqui mesmo, por humanos. O que não quer dizer que se deva fechar os olhos para abusos, nem deixar de publicar trabalhos como o produzido pelo repórter.
O mérito de uma matéria como esta é exatamente o de levar a uma reflexão sem diagnósticos fáceis e rápidos, nem observações que, em muitos casos – mas nem em todos – podem apenas dissimular problemas que devam ser reconhecidos e reparados.
Recentemente equipes da Britannica e Nature se engalfinharam numa troca de sopapos teóricos sobre quem erra mais, ou comete os equívocos mais grosseiros sobre uma enorme variedade de assuntos, com detalhes que sugerem um estranho e absolutamente incompreensível gênero de ficção.
Nesse contexto, uma questão que talvez valha a pena considerar é se haveria alguma razão para se pensar que publicações científicas, ou mesmo a produção científica, possam estar completamente imunizadas da banalização crescente que se apossa da realidade.
Questões como esta podem provocar arrepios de horror em mentalidades mais ortodoxas, aquelas que cultivam idéias definitivas sobre como as coisas de fato são, em lugar de como parecem ser.
Promessas dissimuladas
Se a ciência for de alguma forma uma produção desvinculada do entorno social, como defende a chamada corrente internalista da história da ciência, não há razão para temores. Ao final das contas, forças internas e intrínsecas colocarão cada peça em seu devido lugar. Mas talvez a ciência não tenha esta pretensa origem supra-humana. Talvez seja humana, demasiado humana, e por isso mesmo reflita falhas e paixões típicas dos humanos.
As equações de Albert Einstein apontaram para um universo em expansão ou contração, mas a interpretação que ele deu a elas, introduzindo o que chamou de constante cosmológica, fez com que tudo ficasse estático. Posteriormente ele diria que esse foi o erro mais estúpido e arbitrário que cometeu em toda sua vida, mas a verdade é que a chamada energia escura, que sugere um universo em expansão acelerada, retoma algo sugerido pela rejeitada constante cosmológica.
A pesquisa científica, a busca pelo conhecimento – e essa não é uma exclusividade da ciência – de muitas maneiras é um campo minado, repleto de riscos. E a idéia de que o conhecimento possa ser delimitado por um risco claro de giz, como num jogo de amarelinha, não passa da mais descarada simplificação; esta, difundida tanto por parte de cientistas em busca de prestígio e status como novos sacerdotes quanto de uma mídia muitas vezes alienada, vítima de seu próprio efeito diluidor.
Werner Von Braun, o construtor de foguetes que levou humanos à Lua, e Thomas Edison (fundador da Science) são dois dos nomes que vêm à mente quando se pensa no erro. Ambos se deram conta da complexidade e das promessas dissimuladas num erro como indicação de que a solução que buscavam não estava ali, mas em outro lugar que deveriam esforçar-se para encontrar.
Mas a visão que se tem do erro, em certas observações, não vai além do mais puro maniqueísmo, sem nenhuma possibilidade de frutificar em alternativas promissoras.
Tentáculos vários
Que a ciência comete erros, erros absurdos em alguns casos, deveria ser uma noção ao alcance do homem comum, aquele que batalha como um caçador primitivo para se manter vivo ao fim de cada dia, sem tempo para reflexão.
Livrá-lo da idéia de uma ciência certeira como a flecha de um mito seria uma forma de lhe oferecer humanidade, de amenizar sua sorte com a idéia de que o fracasso não é o castigo de alguns renegados pelos deuses.
A imagem da ciência, no entanto, mesmo para gente com maior possibilidade de esclarecimentos, é de uma simplificação desesperadora. E, por surpreendente que possa parecer, inclui muitos pesquisadores travestidos de "cientistas".
Cientista, na verdade, é um termo impreciso. Por isso mesmo deveria ser utilizado com parcimônia. Afinal, nem todo pesquisador é digno dele. A distinção, neste caso, sugere algo como a diferença entre um advogado e um jurista. Um jurista codifica as leis, sensível às necessidades sociais. Um advogado aplica as leis em suas considerações. Não precisa necessariamente ser um homem limitado. Mas não codifica, apenas aplica o que foi codificado.
Assim, se algumas dessas considerações tiver algo de razoável, é de se pensar que o erro é algo inevitável ainda que deva ser contido a todo custo, embora haja uma enorme contradição entre esses dois pontos. E que a banalização, embutida em telefones que também fotografam talvez se estenda além do que estejamos dispostos a aceitar.
Cientistas como Miguel Nicolelis provavelmente têm toda a razão em irritar-se com o critério dúbio ou equivocado na escolha de trabalhos selecionados para publicação – como desabafou com Escobar ao dizer, referindo-se a publicações científicas, que "minha impressão é de que entraram na onda de fazer publicidade delas mesmas".
O fato é que, se tiver razão, significa apenas que a banalização de fato se espalha como um polvo gigante, com tantos tentáculos quanto as cabeças da medusa.
Flor do Lácio
Outras fontes ouvidas pelo repórter têm posição intermediária nesta história e, pelo menos um, não enxerga o sensacionalismo de que as publicações são acusadas.
As editoras de Nature e Science se defendem com argumentos razoáveis. Mônica Bradford, da Science, justifica que "publicamos trabalhos arriscados. Estamos em busca da mudança de paradigma, do novo método ou da resposta a alguma pergunta que venha desafiando a ciência há algum tempo, e isso é um negócio arriscado".
Negócio arriscado e ponto de vista que muitos de seus interlocutores não estão nem um pouco dispostos a levar em conta.
Linda Miller, da Nature, refuta a idéia de que sua publicação esteja comprometida com a diluição, pautando a mídia internacional. Argumenta que Nature (que já foi inglesa e agora é de um grupo editorial alemão) "tenta encorajar a cobertura na mídia de certas áreas científicas que raramente vêem a luz do dia". Acrescenta que "selecionamos e publicamos os melhores e mais interessantes trabalhos de qualquer área, independente de ser de interesse da imprensa ou não".
O mais provável, num caso como este, é que cada um dos interlocutores tenha sua dose de razão e que o grande desafio seja exatamente o de chegar a um acordo sobre o que pode ser melhorado.
Quanto à idéia da discriminação, da mesma forma como ocorre com a banalização, é de se perguntar se haveria alguma razão para que não se estendesse também ao campo científico. Claro que muitos gostariam de acreditar que isso seja possível. Mas talvez seja improvável que possa ser verdade. Daí um certo desapontamento.
As razões por trás do preconceito são, certamente, todas elas absolutamente irracionais. O que não chega a ser uma contradição surpreendente mesmo num campo pretensamente imune às paixões, caso da ciência. Herton Escobar reservou um espaço para explicar este paradoxo aparente – que talvez nem seja exatamente um paradoxo, mas algo que faz sentido: a má qualidade dos trabalhos apresentados.
Como aprendemos na escola, com ao menos um de todos aqueles professores que nunca foram além dos limites do prédio onde ensinavam, generalizações não são boas conselheiras. Mas se não se deve generalizar, pode-se ao menos particularizar e, neste caso, quem acumula alguma experiência em receber trabalhos para publicação tem ao menos meia dúzia de histórias capaz de fazer chorar. De desespero, não de comoção ou sensibilidade.
Parte dos pesquisadores brasileiros não sabe escrever sequer em português. E se não sabem fazer isso em português é improvável que possam fazê-lo em inglês ou em qualquer outro idioma.
Postar um comentário